Ataques à ciência dão errado
A ciência é um conjunto institucionalizado de práticas de conhecimento, não um sistema filosófico.
O texto a seguir é uma tradução do texto “What Attacks on Science Get Wrong – Science is an institutionalized set of knowledge practices, not a philosophical system” publicado no The Chronicle of Higher Education em 9 de dezembro de 2020, de autoria de Andrew Jewett.
Andrew Jewett é autor de Science, Democracy, and the American University: From the Civil War to the Cold War (Cambridge University Press, 2012). Estudou em Harvard, Yale, New York University, Vanderbilt, e no Boston College. Teve bolsas de estudos do National Humanities Center, do Cornell Society for the Humanities, do National Academy of Education, e do American Academy of Arts and Sciences. Esse texto é adaptado do último livro de Jewett, Science under Fire: Challenges to Scientific Authority in Modern America (Harvard University Press).

Em 2013, eclodiu outra longa linha de disputas sobre o cientificismo. Leon Wieseltier, editor literário do The New Republic, disse aos formandos em humanidades em uma cerimônia de formatura da Universidade Brandeis que eles representavam “a resistência” em uma sociedade dominada pelos “imperialismos gêmeos da ciência e da tecnologia”. Wieseltier mencionou os temas familiares de ataque à ciência – a escravidão dos seres humanos às máquinas, a tirania dos números, as depredações do “tecnologismo”, o domínio incontestável da “utilidade, velocidade, eficiência e conveniência” na cultura moderna. O antídoto, afirmou ele, são as humanidades.
O psicólogo evolucionista Steven Pinker respondeu. Humanistas petulantes, acusou ele, dão boas-vindas à ciência quando ela cura doenças, mas não quando ela atinge seu feudo profissional. A marcha da ciência e do Iluminismo melhorou imensamente a condição humana. Apenas a ciência, insistiu Pinker, poderia abordar “as questões mais profundas sobre quem somos, de onde viemos e como definimos o significado e o propósito de nossas vidas”. Os estudiosos das ciências humanas permaneceriam irrelevantes até que adotassem o humanitarismo cientificamente informado que constituía a “moralidade de fato” do mundo moderno. A controvérsia que se seguiu se estendeu por aquele verão e outono.
Hoje, uma pandemia global atinge o mundo. As sociedades enfrentam questões imediatas, práticas, de vida ou morte, sobre como incorporar ciência e perícia em suas decisões coletivas. E, no entanto, os velhos refrões ainda podem ser ouvidos. O comentarista conservador Sohrab Ahmari argumentou que “a ideologia do cientificismo” mergulhou o mundo em “um funk meio-milênio”. Diante de um vírus mortal, escreveu Ahmari, os modernos não entendem por que “vale a pena viver e passar adiante”; eles não podem nem mesmo afirmar que “ser é preferível a não ser”. Pinker voltou a entrar na conversa, argumentando que as decisões políticas que favorecem o bem-estar econômico em vez da saúde física refletem a “ilusão maligna” da “crença na vida após a morte” dos evangélicos, que “desvaloriza vidas reais”.
E assim este padrão cansativo de décadas de disputas continua. Amargas controvérsias públicas giram em torno de mudanças climáticas, design inteligente, alimentos geneticamente modificados, vacinas, mineração de dados e dezenas de outras questões. Em resposta, os críticos culturais reiteram suas posições familiares – geralmente o lamento de que uma ciência sem alma domina a vida moderna ou o medo de que uma onda crescente de irracionalidade faça com que a humanidade retorne à idade das trevas. As abstrações proliferam, à medida que comentaristas invocam a ciência, o cientificismo, o racionalismo, o Iluminismo, as humanidades, o humanismo, a religião, a fé, a irracionalidade, o Ocidente e a modernidade.
Essas abstrações em grande escala provaram ser extremamente inúteis. Cada um dos problemas que enfrentamos tem seus próprios contornos distintos, suas próprias inter-relações complexas entre ciência e normas sociais, práticas e instituições. Apesar das declarações inflamadas dos combatentes e das preocupações dos espectadores, o empreendimento científico como um todo não está em jogo nos debates sobre vacinação, engenharia genética ou mudança climática. Em vez disso, essas controvérsias envolvem descobertas científicas específicas, teorias, técnicas, dispositivos e práticas, conforme se relacionam com valores profundamente arraigados (e muitas vezes diretamente conflitantes) de muitos grupos diferentes.
Teremos dificuldade para abordar as questões incômodas do século 21 se continuarmos a usar as ferramentas interpretativas dos séculos 19 e 20. Essas ferramentas foram forjadas na polêmica entre as elites culturais conflitantes sobre a extensão da ciência a novos domínios – primeiro na história da vida na Terra e depois nas relações humanas – e seu lugar em escolas e faculdades. As injunções gerais para colocar nossa confiança na ciência, ou religião, ou humanidades, ou qualquer outra estrutura ampla, oferecem pouca orientação sobre como responder às possibilidades sociais levantadas por inovações científicas específicas.
Em meados do século 20, uma grande variedade de líderes religiosos, juntamente com estudiosos das humanidades, conservadores políticos, muitos cientistas e grupos de cientistas sociais dissidentes e progressistas seculares, atribuíram os problemas do mundo moderno a uma difamação moral generalizada. Atribuíram esse problema, por sua vez, a tentativas equivocadas de aplicar métodos científicos ao domínio moralmente carregado da ação humana. As imagens resultantes da ciência como uma força eticamente impotente e culturalmente ameaçadora influenciaram as revoltas da década de 1960, que reforçaram poderosamente a associação da ciência com uma forma tecnocrática de liberalismo. Embora os contornos dessas imagens tenham mudado desde então, elas ajudam a explicar por que muitos americanos vêem a ciência moderna como uma presença cultural estranha, apesar de suas associações igualmente fortes com o progresso tecnológico e o crescimento econômico.
Os desafios à autoridade científica que circularam nos Estados Unidos desde os anos 1920 não estão todos errados. A ciência é um empreendimento confuso e totalmente humano, que não aborda e não pode abordar muitas das questões sociais e morais que enfrentamos. Mas muitos críticos vincularam esse ceticismo apropriado a afirmações extravagantes sobre as ambições dos cientistas para o futuro e a influência no presente.
Apesar de todos os seus insights, a ‘esquerda acadêmica’ de hoje também herda muitos desses maus hábitos interpretativos. Na década de 1980, os pós-estruturalistas argumentaram que a mudança social exigiria o desmantelamento não apenas da visão de mundo predominante, mas também do sentimento subjacente de que uma visão de mundo funcionaria para todos. Não houve respostas finais, apenas pessoas em conflito, travando suas lutas em domínios que iam desde os mais altos níveis de abstração filosófica até as formas mais básicas e mundanas de atividade diária.
Os ataques pós-estruturais aos valores universais propostos pela geração do pós-guerra ampliaram-se para uma crítica à ideia de universalidade. As reivindicações de universalidade eram consideradas meramente como representações de exercícios de poder. A campanha contra o universalismo identificou a ciência como uma espécie de metáfora, uma arma excepcionalmente potente para desarmar aqueles que resistiriam a outras operações de poder. Isso influenciou muito a maneira como os estudiosos pensavam sobre a ciência e seus significados sociais no final do século XX. As concepções foucaultianas de “poder / conhecimento”, a rejeição do essencialismo e universalismo e as afirmações do pós-estruturalismo sobre a centralidade do conflito convergiram em um desafio total à compreensão convencional da ciência.
Esses compromissos moldaram a ‘esquerda acadêmica’ à medida que sua influência cresceu nas décadas de 1980 e 1990. Novos estilos de crítica se juntaram aos antigos, e os pós-estruturalistas negaram que qualquer um pudesse alcançar o que o filósofo Thomas Nagel chamou de “visão de lugar nenhum” e a estudiosa feminista Donna Haraway chamou de “truque de deus”. Mesmo as formas de objetividade de baixo para cima adotadas por muitos marxistas e feministas na veia de Sandra Harding entraram em conflito com essa crítica. Haraway procurou fundamentar a capacidade de um insight genuíno em pontos de vista autoconscientemente parciais. Sem uma estrutura única e libertadora disponível, argumentou ela, uma série de “conhecimentos situados” ofereceu a única alternativa para a falsa objetividade da ciência dominante.
À medida que a presunção de universalidade – e, portanto, de uma estrutura moral comum – desapareceu, uma nova ênfase na diferença prevaleceu na ‘esquerda acadêmica’. “A cosmovisão pós-moderna acarreta a dissipação da objetividade”, escreveu Zygmunt Bauman, com “a lenta erosão do domínio outrora desfrutado pela ciência sobre todo o campo do conhecimento (legítimo)”, levando ao surgimento de múltiplos sistemas de verdade concorrentes.
Há muito a ser dito sobre esses relatos. Como tantos críticos antes deles, no entanto, os teóricos pós-estruturais muitas vezes vincularam os argumentos do senso comum sobre o caráter e os limites do conhecimento científico a retratos abrangentes e redutivos de sua influência hegemônica no mundo moderno. Eles afirmaram que a ciência como um todo reivindica a capacidade de responder a todas as perguntas e resolver todos os problemas. Eles também afirmaram que a ciência reina suprema nas sociedades modernas, determinando os contornos básicos de nosso pensamento. Finalmente, eles atribuíram uma série de problemas sociais específicos à influência cultural da ciência. Ao fazer isso, eles ecoaram gerações de críticos religiosos, humanistas e conservadores com visões sociais muito diferentes das suas.
A segunda dessas suposições – que a ciência dá o tom da cultura moderna – ancora o resto do argumento e merece um exame especial. Se a ciência não é culturalmente dominante, então ela não pode ter causado a ladainha de males atribuídos à ela. A ciência é realmente tão influente? Ou devemos culpá-la instintivamente? O que, exatamente, é científico sobre o nosso mundo?
Nos Estados Unidos, a ciência desempenha funções públicas importantes. Biólogos e físicos exercem formas de autoridade em tribunais que líderes religiosos e críticos literários não possuem. O Federal Reserve baseia-se em especialistas econômicos, não na Bíblia ou em Melville. A Agência de Proteção Ambiental segue sugestões das ciências naturais, o Departamento de Educação das ciências sociais. As escolas públicas de ensino médio podem ensinar darwinismo, mas não criacionismo ou design inteligente. Olhando para esses casos, podemos concluir que a ciência desfruta de uma posição privilegiada única na cultura pública americana.
No entanto, outros especialistas também compartilham desses privilégios. Contamos constantemente com o conhecimento de historiadores, jornalistas, juristas e testemunhas oculares, entre outros, embora não consideremos seu trabalho científico. A posição elevada da ciência acaba sendo em parte uma questão de exclusão seletiva: de acordo com a Primeira Emenda, as instituições públicas nos Estados Unidos se abstêm – com ou sem razão, de forma consistente ou inconsistente – de tratar os princípios teológicos como verdades estabelecidas. Enquanto isso, mesmo os mais fervorosos defensores da literatura e das artes raramente afirmam que oferecem formas de conhecimento que devem ser usadas em tribunais ou em decisões políticas.
Ironicamente, o distanciamento das instituições públicas das religiosas tornou muito mais fácil para os críticos religiosos e humanistas se posicionar contra a ciência, embora esse posicionamento às vezes tenha prejudicado a capacidade de encontrar uma audiência. À medida que as comunidades religiosas se tornavam mais tolerantes umas com as outras, o inimigo comum – antigamente paganismo, agora materialismo, naturalismo ou secularismo – apresentava um alvo óbvio. Certamente, continua o pensamento, as instituições seculares resultam de filosofias seculares, e certamente a ciência produz essas filosofias. À medida que os cientistas aumentavam suas afirmações de neutralidade de valor, mais e mais críticos traçavam uma conexão causal. A ciência, eles argumentaram, trouxe à tona um mundo dominado por valores superficiais e materialistas, por uma mentalidade puramente instrumental que obscurece a própria existência de valores, ou talvez pelos valores de um grupo social hegemônico, pintado com o pincel da neutralidade.
É realmente verdade, entretanto, que as instituições e práticas seculares refletem o domínio cultural da ciência? Alguns países testemunharam a imposição ativa de visões de mundo “científicas” por regimes militantes seculares. No entanto, mesmo em tais casos, o conjunto institucionalizado de práticas de conhecimento que constituem a ciência não se alinhava necessariamente com as filosofias que marchavam sob sua bandeira. Nos Estados Unidos, as relações entre ciência, filosofia e secularização têm sido especialmente complexas e indiretas. É uma simplificação grosseira afirmar, como disse o estudioso de estudos religiosos Huston Smith, que a ciência “criou nosso mundo”. Ou ainda, como manifestou Alasdair MacIntyre, que a vida social contemporânea é em grande parte “a reencenação concreta e dramática da filosofia do século 18. ”
Muitas características do mundo moderno são seculares, mas não científicas. Direito, burocracia, capitalismo, consumismo, jornalismo, educação, esportes: essas esferas, como muitas outras, refletem em parte o declínio do controle das instituições religiosas. Mas eles não compartilham um único fundamento filosófico comum com a ciência. Como todas as formações sociais, cada uma toma muito de sua forma a partir de traços humanos antigos e de conflitos entre grupos específicos. E cada um, por sua vez, gera um conjunto distinto de suposições, valores e comportamentos culturais.
Isso não quer dizer que as pressuposições fundamentais sejam irrelevantes. A maioria das práticas e instituições no Ocidente moderno parecem inúteis ou mesmo prejudiciais para aqueles que presumem que uma divindade determina nossa sorte mundana, que nossas ações terrenas importam principalmente em relação ao nosso destino de outro mundo, ou ambos. Os padrões típicos de esforço nas sociedades modernas se encaixam muito melhor com a visão de que o bem-estar terreno de uma pessoa reflete em grande parte as ações terrenas de uma pessoa, e que essas ações importam principalmente por esse motivo.
Embora a difusão dessa ênfase no aqui e agora tenha tido grandes consequências, ela não é secular nem científica em si. Claro, isso é típico entre não teístas, embora alguns considerem a ação humana essencialmente sem sentido. Mas também se adapta a uma ampla gama de entendimentos religiosos, mesmo quando entra em conflito com outros. Na verdade, um dos pontos de discórdia em muitos debates em torno da ciência e da modernidade é a legitimidade dessas formas comparativamente mundanas de religião.
Existem questões importantes em jogo aqui, com consequências reais. Existe um Deus que intervém em nossos assuntos? Nosso sistema educacional deve enfatizar a biologia, a literatura ou a Bíblia? As respostas são muito importantes. Mas a forma como estruturamos nossos argumentos também é importante. É injusto e socialmente prejudicial empurrar todos os resultados da fragilidade humana para os livros de nossos oponentes. Essa abordagem gera ressentimento e desconfiança, incluindo ceticismo em relação aos nossos próprios programas culturais quando fica claro que exageramos os efeitos do mundo real das perspectivas concorrentes – e que a nossa perspectiva também não é a cura para as fraquezas humanas.
Enquanto isso, procurar enxergar os problemas sociais até as divergências filosóficas nos deixa incapazes de abordar esses problemas por conta própria, tanto por representar erroneamente suas causas principais quanto por nos convencer de que devemos confrontar nossos conflitos intelectuais antes de podermos tomar medidas significativas. Sem exagerar o grau de terreno compartilhado, devemos trabalhar para construir coalizões onde for possível, mesmo se acreditarmos que nossas próprias opiniões irão brilhar no final. Muitas das ideias que moldam profundamente o comportamento social – ideias sobre igualdade racial, por exemplo, ou a necessidade de regulamentação econômica – ultrapassam as perspectivas religiosas e seculares. Nossos padrões concorrentes de apologética não devem impedir a ação coletiva nessas áreas.
Os apologetas da ciência, como seus críticos, muitas vezes foram a extremos absurdos para desacreditar as visões de mundo que consideravam prejudiciais. Mas aqui é importante distinguir entre a ciência como um conjunto de práticas e instituições e as filosofias que vieram com seu nome. Os críticos da ciência costumam dar o passo salutar de diferenciar a ciência das filosofias do materialismo, naturalismo, positivismo e assim por diante. Mas fazem isso de uma maneira que coloca práticas científicas altamente valorizadas em seu próprio lado da linha filosófica e culpa os males do mundo em perspectivas orientadas para a ciência. Seria sensato adotar uma abordagem mais justa.
Tal abordagem insistiria em níveis diferenciados de análise. Há três histórias distintas a serem contadas: uma sobre os papéis sociais das práticas e descobertas científicas, uma segunda sobre as trajetórias e emaranhados de filosofias inspiradas na ciência e uma terceira sobre o desenvolvimento de padrões e instituições seculares. Insistir nessa diferenciação não é afirmar que a ciência é intrinsecamente pura, operando em glorioso isolamento do mundo humano. No entanto, distinguir entre ciência, filosofia e o secular, em vez de confundi-los, nos permitiria entender seus emaranhados históricos mais claramente – e lidar com mais eficácia com as implicações da pesquisa empírica em nossos dias.
Com o tempo, uma avaliação mais generosa e matizada da ciência pode nos ajudar a libertar os pesquisadores das afirmações extravagantes de desinteresse que envolvem seu trabalho. Não são apenas suas reivindicações, mas também os argumentos e ações de muitos outros grupos que aprisionaram os cientistas na jaula da absoluta neutralidade de valor. Os críticos frequentemente declaram que a ciência evita considerações de valor, a fim de culpá-la por isso. Alguns até afirmam que a ciência genuína fornece conhecimento absolutamente certo – não modelos, nem probabilidades, nem cálculos de risco – e deve fazê-lo antes de agirmos sobre ela. A maioria de nós é cúmplice de uma versão disso: quando confrontados com pesquisas de que não gostamos, exigimos que os pesquisadores em questão demonstrem seu completo desinteresse antes de levá-los a sério.
Esse ciclo deve ser quebrado se quisermos reconhecer a ciência pelo que ela realmente é: uma prática inteiramente humana como qualquer outra, mas que produz resultados notáveis. Em vez de argumentar que a validade da ciência depende da neutralidade pessoal de pesquisadores individuais, poderíamos aprender a valorizar as descobertas científicas por sua confiabilidade. Na verdade, poderíamos melhorar os procedimentos científicos adicionando novos recursos, como a participação do cidadão, para ajudar a garantir a confiabilidade dos resultados. Isso pode ser impossível se os críticos continuarem a ver a ciência como uma presença cultural monstruosa e culpá-la pelas falhas da humanidade, em vez de simplesmente avaliar seus pontos fortes e fracos. É hora de superar a polêmica, reconhecer que a ciência é uma característica central de nosso mundo e decidir o que faremos com ela.
————————
Veja o que dizem pesquisadores da NASA sobre a possível capacidade da ciência de entender tudo.
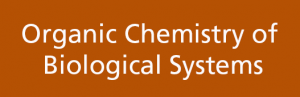
Você precisa fazer login para comentar.